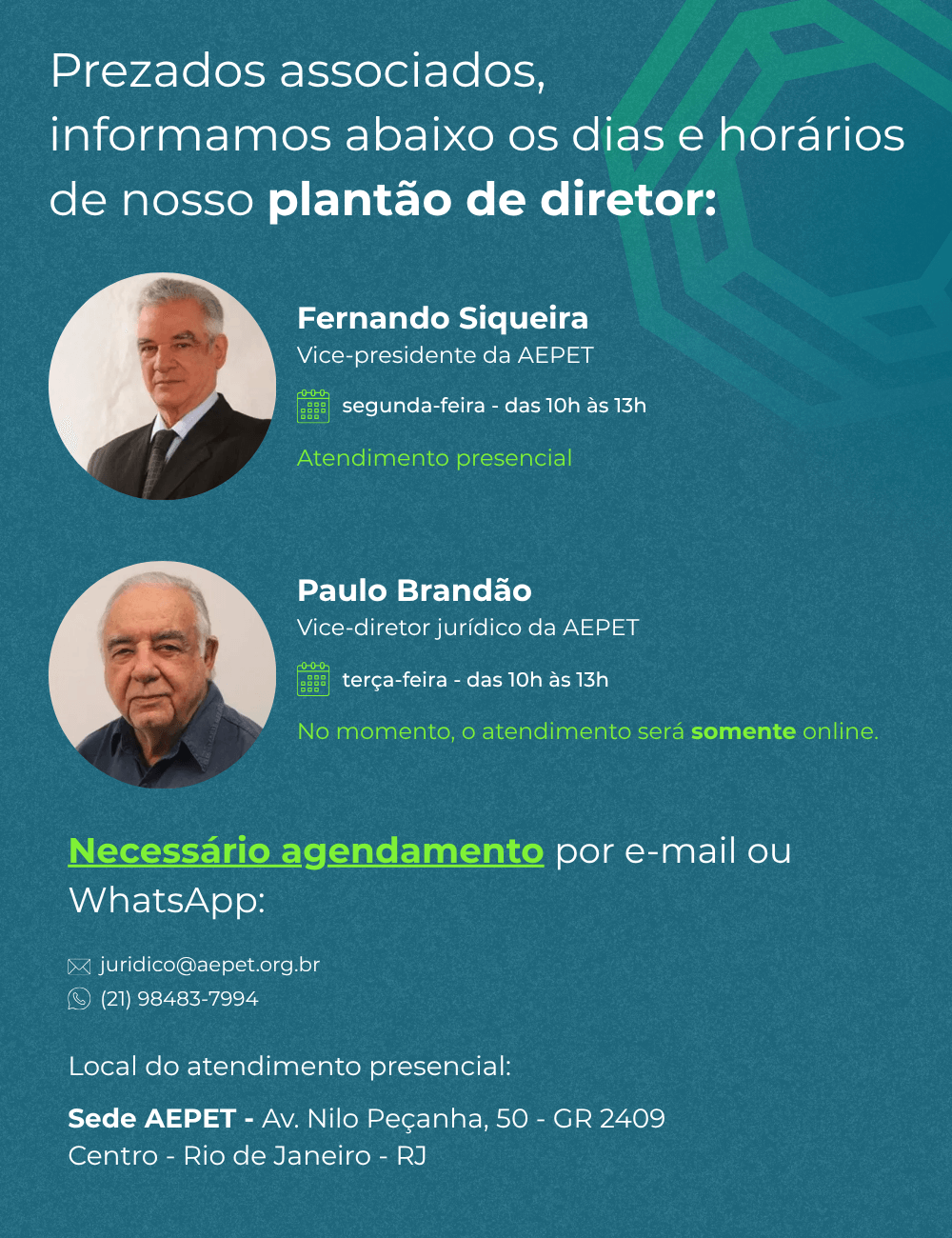Reflexões para teoria do Estado Nacional: os primeiros romanos
O professor canadense Earle E. Cairns (1910-2003) escreve que “nenhum império do antigo Oriente Próximo tinha conseguido dar a
O professor canadense Earle E. Cairns (1910-2003) escreve que “nenhum império do antigo Oriente Próximo tinha conseguido dar aos homens um sentido de unidade numa organização política”, como fizera Roma (O cristianismo através dos séculos, 1954).
Na História de Roma (1928), o antropólogo e historiador ucraniano Mikhail Rostovtzeff (1870–1952) ressalta o processo de união das tribos italianas, contrastando com o desmantelamento do mundo grego e etrusco no século 4 antes de Cristo, no surgimento de Roma.
Ernest Renan (1823–1892), pensador e historiador francês, no último dos sete volumes que constituem a História das Origens do Cristianismo, Marco Aurélio e o Fim do Mundo Antigo (1881) escreve no Prefácio: “Tudo o que depois se fizer de bom já não é segundo os preceitos heleno-romanos; os sobre-excede o princípio judeu-siríaco e, posto que seu triunfo pleno leve ainda cem anos a produzir-se, sente-se bem que o futuro lhe pertence. O século 3 é a agonia de um mundo que ainda tinha, no século II, vida e força.”
Ainda Renan, na mesma obra, fixa outra referência da sociedade ocidental: a Reforma de Martinho Lutero, no século 16, quando Lutero fez fixar, na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg (1517), as 95 teses que relacionavam suas divergências com a Igreja Católica.
Temos, portanto, dois tempos distintos: o romano, do século 4 a.C. ao 3 d.C. e o da Igreja Católica, do século 3 d.C. ao século 16. Iremos examinar como se organizou a sociedade, ou seja, que Estado acompanhou estes e os outros períodos da História.
Antecedendo a exposição sobre o Estado em Roma, é oportuno deixarmos explícitos alguns entendimentos. Por que denominamos alguns Estados nacionais, se todo Estado, em princípio, está relacionado a um país, a uma nação, mesmo quando seu território não é contínuo?
Em nossa compreensão, há Estados constituídos conforme uma diretriz filosófica, uma ideologia, outros que decorrem do relacionamento da sociedade com seu entorno físico, da relação genérica do homem com os recursos naturais que estão ao seu redor. Os primeiros, denominamos Estados Coloniais, pois são fruto de um pensamento que se pretende universal, aplicado a qualquer realidade social.
Estados Nacionais são específicos, pois as realidades físicas e culturais, resultantes destas interações, são únicas, próprias de um só País, da nação. O Estado-nação não se resume a um conjunto de instituições administrativas, mas a todo um sistema de vida comum socialmente formada na história e geograficamente plasmada no território, incorporado e representado nas instituições políticas que lhe conferem soberania.
Marxistas, como Antonio Gramsci (1891–1937) nos Cadernos do Cárcere (1975, reunidos por Valentino Gerratana), colocam Sociedade e Estado em planos distintos, presos à questão das classes, que justifica um domínio e, consequentemente, as decisões. Ou seja, não se afastam do Estado Leviatã, da necessidade de defender-se, e a todos, pelo respeito, pelo medo, pela obediência à instituição forte, violenta, e mesmo cruel.
Mas, diferentemente dos teóricos do Estado-Leviatã, quase sempre liberais como Herbert Spencer ou protoliberais como Thomas Hobbes, os marxistas, pelo menos os clássicos, negam qualquer autonomia do Estado, vista por eles como ferramenta de classe, seja da burguesia, no capitalismo, seja do proletariado, no socialismo. O fenômeno político torna-se, assim, mera extensão do econômico, que constituiria a “infraestrutura” social. A realidade nacional seria, assim, econômica em última instância.
Mesmo quando é inserida a cultura no centro do Estado democrático, a ênfase se dá na “adaptação à civilização”, à moral e à “necessidade do continuado desenvolvimento produtivo”.
Sem dúvida que estudar o Estado é também se debruçar sobre a questão do poder, especialmente naquele que se classifica como “Estado Moderno”, ou seja, pós-mercantilista, mas não se reduz ao poder econômico.
António Manuel Hespanha (1845–2019), no Prefácio da versão original, no idioma espanhol, de As vésperas do Leviathan (1989), comenta não ser o tema do poder “inocente”, pois está “sobrecarregado de subentendidos”, que foram “inculcados nos historiadores pelas dúvidas e pelo decidir das polêmicas”. Também ressalta as “alianças” desde o chorar pelo fim das liberdades até a “desfeudalização”.
Hespanha nos traz, à questão do Estado, o sociólogo alemão Niklas Luhmann (1927–1998) quando atenta para a “administração”, como elemento do “estudo do poder político”, recortado também por “outros sistemas (econômico, simbólico etc.)”.
Acreditamos que nosso prezado leitor já concluiu que a questão do Estado é bem mais complexa do que o Estado seguir “o mercado”, como um Estado Mínimo, a quem se contrapõe, erroneamente, o Estado dominador, muito além do “soviético”, “do comunista”, pois jamais poderia abarcar todas as relações de uma sociedade.
Concluímos esta introdução com a observação do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930–2002) que toda sociedade encobre as relações de dominação com uma ilusão, a separação de direitos pessoais dos reais e entre as obrigações morais e o contrato (Esquisse d’une théorie de la pratique, 1972).
Iniciemos a análise e compreensão do Estado Romano, no intervalo fixado por Rostovtzeff e Renan. O jurista italiano lauro chiazzese (1903–1957), citado pelo latinista e romanista brasileiro vandick londres da nóbrega (1918–1996) (Compêndio de Direito Romano, adotamos a 6ª edição, revista e aumentada, em dois volumes, de 1970), afirma ser o Direito Romano elemento formador da civilização ocidental: “salus publica suprema lex esto” (o interesse comum acima do interesse privado).
Não faremos mais uma História de Roma, apenas assinalaremos momentos e, especialmente, do estado e do direito, que deixaram as marcas profundas que levaram, por exemplo, o filósofo francês Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) a elaborar uma “arqueologia dos atos jurídicos romanos” para estudar a liberdade (La Morale et la Science des Moeurs, 1903).
O “Latium”, como “Canaan”, surgiram entre dois grandes impérios. Usaremos a palavra império para designar civilizações que se expandiram além dos limites territoriais do povo ou povos fundadores e que contêm algum sentido de universalidade e generalidade, acima dos simples particularismos da cultura, conforme definido por Luís da Câmara Cascudo (1898–1986) em seu livro Civilização e Cultura, 1973.
Os latinos estavam entre gregos e etruscos, Jericó entre egípcios e sumérios. Isaac Asimov (1920–1992), cientista e romancista, em seus volumes da História Universal, atribui a importância “como comerciantes” para sobrevivência do povo de Canaã, pois “o comércio parece ser uma atividade pacífica que beneficia todo mundo. E seria, se cada um se contentasse com sua parte. Mas isto realmente acontece? O que seria a parte justa? Compra-se o mais barato que pode e vende-se o mais caro possível” (tradução livre de The land of Canaan, 1971).
Rostovtzeff afirma que “o Lácio não era particularmente atraente aos etruscos e gregos do ponto de vista comercial. A planície que limita o Tibre inferior ao sul era um vale pantanoso, cortado por sete ravinas, que tornavam difícil a comunicação. Ao sul dessa planície há uma estreita faixa montanhosa, propícia ao plantio de cereais e vinhas e à criação de animais, mas de extensão muito limitada” (obra citada).
Em nossa percepção, os Estados se formam e ganham sua personalidade única no relacionamento com o meio onde a população se agrupa. Daí que são, modernamente, Estados Nacionais. Na descrição de Rostovtzeff podemos inferir que os romanos foram se constituindo na luta contra a adversidade territorial e entre duas potências que lhes poderiam eliminar. Além da estreita faixa montanhosa estavam os volscos, os équos e os sabinos. Os latinos miscigenaram-se com estes povos e com os etruscos de tal forma que a designação deixou de ser a da etnia para ser a da cidadania: romanos, englobando a todos.
O pensamento de o direito romano surgir sem antecedentes nos parece bastante ingênuo. Rudolf von Ihering (1818–1892), Ludwig Mitteis (1859–1921) e Wilhelm Wengler (1907–1995), para ficarmos em alguns mestres do Direito e, especialmente, romanistas, citados por Vandick L. da Nóbrega, identificam no primitivo Direito Romano (direito das províncias) a influência grega.
Este romanista brasileiro estabelece quatro fases na história do Direito Romano; há quem distinga menos. Para efeito de nosso estudo, condensaremos em duas: a do surgimento de Roma (753 a.C.) até o sobrinho-neto de Júlio César, Otavio, assumir o poder (29 a.C.), destituir senadores e fundar o Império. E daí até a morte de Justiniano (565 d.C.) o segundo período.
Na antiguidade ocidental, os futuros Estados surgiam de um grupo de famílias com ou sem populações vizinhas que, sob uma liderança, se uniam para defesa de seus territórios, de suas colheitas, dos bens naturais desejados por outros grupos. Esta liderança, além de conduzir a luta, orientava a produção e, em muitos casos, desempenhava o papel de orientador espiritual e juiz.
Em Roma (1912), o historiador francês Albert Malet (1864–1915) discorre sobre as lendas e as pesquisas arqueológicas relacionadas aos primeiros romanos. E nos informa de situação bastante reveladora dos romanos, futuros conquistadores na República: a miscigenação que nos chega com a narrativa do “rapto das sabinas”. Numa Pompílio, sucessor de Romulo, era sabino; e rei e sacerdote que dotou de portas o templo de Jano. A partir do século 6 a.C., os etruscos/romanos passam a dirigir Roma, e tem início a formação de uma estrutura de Estado.
Neste período, denominado monárquico, o Rei tinha dois grupos de aconselhamento: o Senado e os Sacerdotes. O povo se dirigia a ele pelas “cúrias”, que eram representativas de grupos, inclusive de nobres, porém mais vinculadas aos locais de habitação. Esta estrutura influenciará a República e concluirá em modelo bastante democrático.
Esta transição para quase totalidade dos romanistas ocorreu de forma pacífica e gradual. Vandick Nóbrega enumera uma dezena de autores favoráveis a esta interpretação. As disputas no período da Realeza resultaram no código conhecido como “Lei das Doze Tábuas” (“Lex Duodecim Tabularum”), em 449/450 a.C., que logrou a laicização da justiça, alguma igualdade entre patrícios e plebeus, como o matrimônio entre eles, e foi obtida verdadeira união de povos e de status sociais, que será fundamental para a expansão da República.
As “Doze Tábuas” tratavam dos seguintes temas: Organização e procedimento judicial; Normas contra os inadimplentes; O Pátrio poder; Sucessões e tutela; Propriedade; Servidões; Delitos; Direito público; Direito sagrado; e Normas Complementares.
Felipe Maruf Quintas é doutorando em ciência política.
Pedro Augusto Pinho é administrador aposentado.
Fonte: Monitor Mercantil
Receba os destaques do dia por e-mail
Gostou do conteúdo?
Clique aqui para receber matérias e artigos da AEPET em primeira mão pelo Telegram.