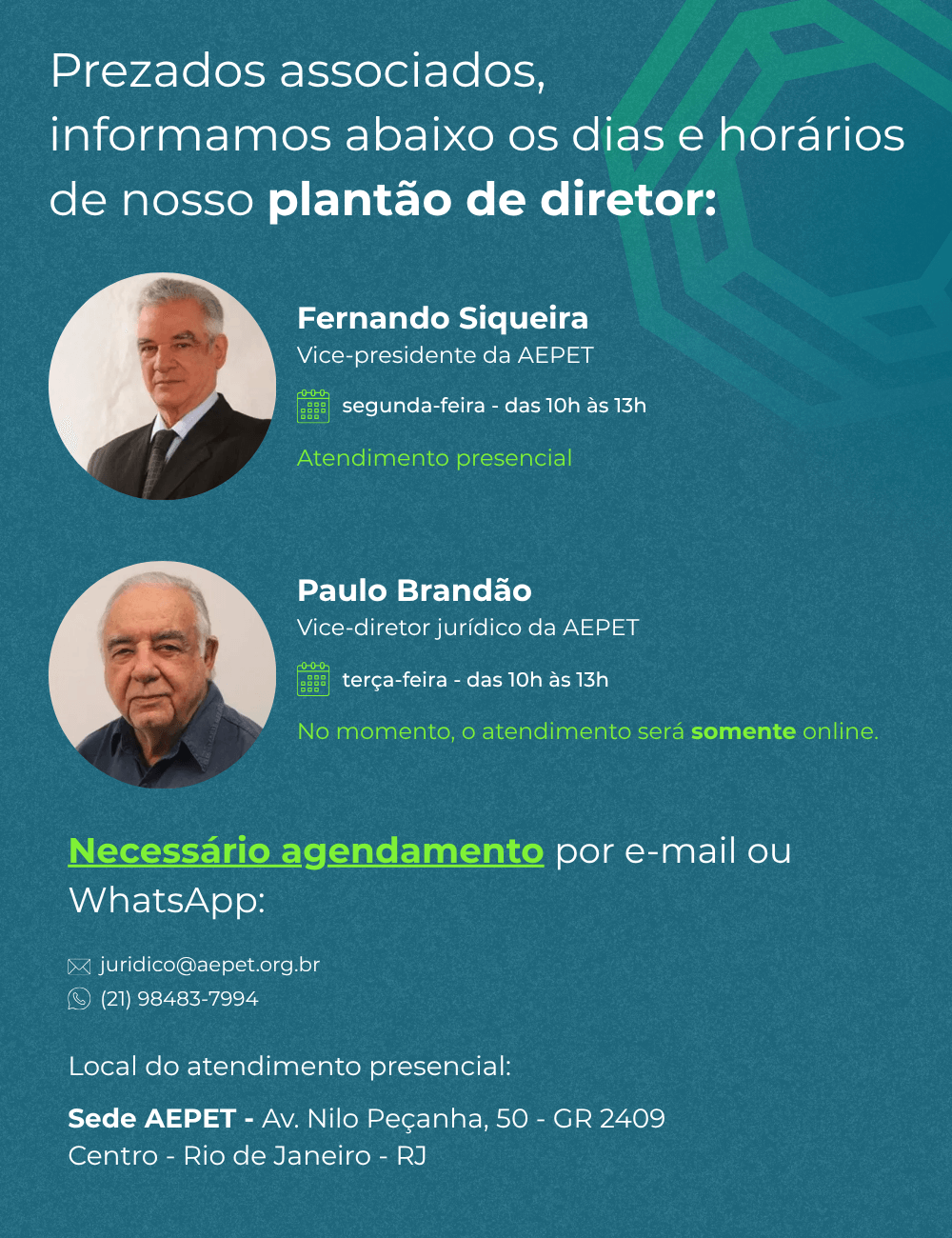“Transformação ecológica” ou eutanásia econômica?
Em essência, em lugar de uma “transformação ecológica”, o Brasil pode estar entrando no caminho de uma virtual eutanásia econômica.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a caminho de conduzir o Brasil rumo a um dos maiores equívocos estratégicos de sua história, com sério potencial para comprometer as perspectivas de desenvolvimento do País nas próximas décadas.
Receba os destaques do dia por e-mail
Trata-se do Plano de Transformação Ecológica, uma ambiciosa agenda que pretende inserir praticamente todos os setores da economia no marco da “descarbonização” da matriz energética e das atividades produtivas em geral, dentro do ilusório conceito da “potência verde”, segundo o qual a prestação de “serviços ambientais” ao mundo seria a principal vantagem comparativa do Brasil no cenário global balizado pelas preocupações com o meio ambiente e o clima.
O pilar central do plano é a conversão das emissões e da captura de carbono em uma commodity transacionável em um mercado regulamentado, tanto para a imposição de um imposto sobre as emissões de determinados setores produtivos (um “direito de poluir”, na definição de um de seus idealizadores), como para a atração de investimentos estrangeiros orientados para projetos ditos sustentáveis.
Outro eixo é o incentivo às energias “limpas”, com destaque para a geração eólica marítima (offshore) e o chamado “hidrogênio verde”, para o qual a intenção é fazer do Brasil o maior produtor mundial até 2030.
Inspirado nas experiências de transição energética da União Europeia (UE) e da Coreia do Sul, o plano parece desconsiderar os impactos negativos das fontes energéticas ditas “limpas” na UE, em especial, na sua locomotiva econômica, a Alemanha, e as correções de rumo do país asiático, que contempla uma expansão da oferta de energia nuclear, em detrimento das menos eficientes fontes eólicas e solares.
A pedra angular do plano é a criação de um mercado regulado de créditos de carbono, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), em discussão no Senado com o Projeto de Lei (PL) 412/2022, cuja relatora é a senadora Leila Barros (PDT-DF).
Pelos termos do PL, será estabelecido o limite anual mandatório de emissões de 25 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) para um conjunto de empresas, a partir do qual elas terão que comprar no mercado “direitos de poluir”, assim definidos pelo coordenador econômico do plano, Rafael Dubeux, assessor especial do ministro da Fazenda Fernando Haddad.
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo (25/08/2023), Dubeux explica: “(…) Pode parecer meio absurdo você vender o direito de poluir, mas, hoje, as empresas têm esse direito sem qualquer limite. Uma das possibilidades é a seguinte: imaginando que o país tenha 100 toneladas de cota de emissão por ano, para a economia toda. O governo faz, então, um leilão de cada tonelada. Quem dá mais, leva a cota. Por exemplo: a empresa estima que vai precisar de 15 toneladas, aí entra no leilão para comprar essa quantidade. Se, por acaso, ela só usar 10 durante o ano, ela pode vender esse excedente para outra empresa. A tendência é de que, nos primeiros anos, parte das cotas ou até a totalidade seja alocada gratuitamente. E a ideia é ir migrando, aos poucos, para um modelo com, cada vez mais, alocações via leilão… A ideia é que o governo faça o primeiro leilão, da emissão primária das cotas, e depois haverá uma negociação no mercado secundário”.
Evidentemente, as cotas tendem a encarecer: “(…) Porque o limite vai diminuindo. Então, ou as empresas vão se adaptando, ou terão de pagar cada vez mais caro pela cota. A indústria que se antecipar a esse processo, e já começar a modernizar o seu parque, vai precisar comprar cotas menores, então será mais competitiva”.
A intenção é zerar as cotas até 2050, em linha com os planos da alardeada – e cada vez mais contestada – meta de “carbono zero líquido” (net zero) perseguida pelos promotores da agenda climática global. Agenda que, como admitem alguns dos seus próprios mentores, nada tem a ver com o clima do planeta, mas com interesses políticos e econômicos.
Ouçamos, por exemplo, o economista alemão Ottmar Edenhofer, então vice-diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impactos Climáticos (PIK) e co-presidente do Grupo de Trabalho 3 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em uma entrevista de 2010: “Basicamente, é um grande erro discutir a política do clima separadamente dos grandes temas da globalização… É preciso libertar-se da ilusão de que a política climática internacional é política ambiental. Isto não tem mais quase nada a ver com política ambiental, com problemas como o desmatamento ou o buraco na camada de ozônio (Neue Zürcher Zeitung, 14/11/2010).”
De fato, a imposição de um imposto sobre as emissões de carbono é item integrante da agenda ambientalista internacional desde os seus primórdios, tendo sido proposta já na Conferência de Estocolmo de 1972, como instrumento para “reduzir a poluição atmosférica” – leia-se restringir a industrialização e a modernização das economias, como corretamente entendido, naquele momento, pelas diplomacias do Brasil e de outros países em desenvolvimento. Entretanto, para chegar até ele foram necessárias décadas de ensaios com acordos internacionais de supressão de produtos que eram sinônimos de progresso, casos do inseticida DDT e dos gases refrigerantes (CFCs, halons, etc), por pretextos que, igualmente, nada tinham a ver com a Ciência.
Outra vez, informemo-nos com um dos mais graduados negociadores do Protocolo de Montreal para a Proteção da Camada de Ozônio, o diplomata estadunidense Richard Benedick, que, em seu livro de 1991, Ozone Diplomacy, admite: “(…) Os negociadores estabeleceram datas-limite para a substituição de produtos que haviam se tornado sinônimos de padrões de vida modernos, ainda que as tecnologias necessárias ainda não existissem… Na época das negociações e da assinatura [do Protocolo de Montreal], não existia qualquer evidência de problemas mensuráveis”.
E, adiante, mostra-se presciente: “Os mecanismos que nós concebemos para o Protocolo servirão, muito provavelmente, de modelo para as instituições criadas para controlar o efeito estufa e a adaptação às mudanças climáticas”.
No Brasil, não por acaso, o esforço para a formalização do mercado de carbono conta com a participação de organizações não-governamentais (ONGs) vinculadas ao aparato internacional que atua como um lobby intervencionista para a implementação de tais políticas antidesenvolvimentistas, com destaque para o Instituto Clima e Sociedade, Instituto Talanoa e Observatório do Clima. O primeiro é uma das mais bem dotadas ONGs brasileiras, com orçamento anual da ordem de R$ 50 milhões; a sua ex-diretora-executiva, Ana Toni, é atualmente secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O segundo apresentou um esboço para a legislação pertinente. E a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, tem vínculos estreitos com o último.
Voltando a Rafael Dubeux, ele justifica o imposto com o argumento de que apenas grandes empresas serão afetadas: “O mercado de carbono não pega médias e pequenas empresas, apenas as grandes. Uma padaria, por exemplo, está fora do mercado regulado. Esse mercado será para quem tem grandes parques industriais e emite mais de 25 mil toneladas de CO2 (ou gases equivalentes, de efeito estufa) por ano. São entre 4 e 5 mil estabelecimentos no Brasil que se enquadram nesse recorte, o que corresponde a 0,1% das unidades produtivas do País. Essas companhias respondem por praticamente metade das emissões brasileiras não florestais, ou seja, excluindo o desmatamento da floresta”.
A questão é que essas 4-5 mil empresas (“0,1% das unidades produtivas do País”) integram alguns dos segmentos fundamentais da economia, principalmente, as áreas de siderurgia, alumínio, cimento, química, petrolífera e petroquímica. Ou seja, estamos falando de pelo menos 15% do Produto Interno Bruto (PIB), e não é preciso ser especialista para intuir que o novo imposto irá implicar em significativos aumentos de custos para aqueles setores, os quais, evidentemente, incidirão em cascata sobre todos os demais.
No entanto, Dubeux vê aspectos positivos em tais aumentos de custos de produção: “(…) Um é o esforço de descarbonização que a própria indústria terá de fazer para cumprir o teto, então isso já induz investimento. E outro é que os recursos levantados nos leilões das cotas não vão para o Tesouro. Esse dinheiro vai ser alocado, principalmente, em pesquisa e desenvolvimento de técnicas de descarbonização desses próprios setores. Ou seja, há uma incorporação de tecnologia, o que a gente chama de adensamento tecnológico do setor produtivo brasileiro, que pode, inclusive, virar um exportador de soluções de baixo carbono. Isso impacta o crescimento do PIB e a geração de emprego”.
Conhecendo-se o “vício” da tecnocracia fazendária nacional em contingenciar recursos orçamentários destinados a finalidades específicas, em favor da cobertura dos eternos déficits públicos, fica difícil acreditar na promessa de destinação de tais recursos tributários para a pesquisa e inovação.
Igualmente, a experiência brasileira com a conversão das empresas estratégicas do setor energético em “unidades de negócios”, a partir da década de 1990, não oferece expectativas otimistas sobre o funcionamento do pretendido “mercado livre” de cotas de emissões de carbono. O setor elétrico é emblemático: antes planejado e construído para assegurar um abastecimento de energia a custos acessíveis e de acordo com a expansão da economia, passou a privilegiar negócios, lucros e dividendos, com tarifas que decolaram rapidamente da parte inferior para o topo da escala de preços mundiais.
O otimismo róseo de Dubeux com o “carbono-commodity” tem um paralelo na avaliação do ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo, que, em recente seminário do setor agropecuário, empenhou-se em convencer os produtores de que, em breve, sequestrar carbono será “muitíssimo” mais importante do que produzir alimentos (fiel à convicção, ele associou-se ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao ex-presidente do BNDES, Gustavo Montezano, em uma empresa gestora de “ativos verdes” para explorar o mercado).
No caso, faltou uma informação convincente sobre as vantagens nutricionais dos créditos de carbono sobre os alimentos (talvez, seja útil revisitar a experiência dos holandeses com a bolha especulativa das tulipas do século XVII, além de observar com atenção a atual posição daquele pequeno país europeu como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo).
Outra diretriz do plano é o problemático conceito da “floresta em pé”, panaceia que está sendo promovida como eixo central do desenvolvimento da Amazônia Legal, baseada na chamada bioeconomia e, de um modo geral, detrimental para as demais atividades econômicas – agropecuária, indústria madeireira, mineração, infraestrutura etc –, consideradas agressivas ao meio ambiente e aos direitos das comunidades indígenas. A rigor, equivale à conversão da preservação da vegetação dos biomas Amazônia e Cerrado em commodities a serem usadas como “garantias” de investimentos ditos sustentáveis, principalmente, estrangeiros.
Nessa linha, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, apresentou um mirabolante plano de reflorestamento de 50 milhões de hectares na Amazônia Legal. “Temos que lançar um projeto de impacto, porque é urgente nós mudarmos de atitude e avançar. A nossa sugestão, que estamos trabalhando no BNDES e vamos apresentar o debate em breve, é criarmos um grande projeto de restauração e regeneração da Floresta Amazônica. A nossa meta tem que ser, ao longo de um período a ser estudado e definido, replantar 50 milhões de hectares… Não tem nenhum outro projeto desse alcance disponível no planeta”, disse ele (Agência Brasil, 29/08/2023).
Mercadante não explicou por que o Brasil precisaria reflorestar uma área de 500 mil quilômetros quadrados, quando o bioma Amazônia é um dos mais preservados do mundo, com 84% de suas formações vegetais intactas como encontradas pelos europeus no século XVI, o que representa uma área de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, maior que a Índia. Além de virtualmente “congelar” para o desenvolvimento uma área quase igual à da Bahia, a extravagância pretendida, como ele mesmo enfatizou, teria que ser financiada com recursos internacionais (inevitavelmente, acompanhados por condicionantes sobre a redução do desmatamento e outras interferências nas políticas públicas nacionais).
Quanto à agenda energética, seria conveniente prestar atenção à controvertida experiência alemã com a introdução maciça de fontes eólicas e solares na sua matriz elétrica. Entre 2000 e 2020, o país gastou mais de € 500 bilhões para duplicar a sua capacidade instalada de geração de eletricidade, a maior parte com tais fontes, ao mesmo tempo em que, por influência do Partido Verde, desativou usinas nucleares e termelétricas. Porém, a oferta de energia firme só aumentou em um terço, enquanto aumentavam as tarifas e a ineficiência do sistema elétrico, que passou a experimentar uma proporção inusitada de interrupções de fornecimento, obrigando a importação de eletricidade da França, República Checa e Dinamarca, para reforçar a geração de base. Situação que piorou ainda mais com a suspensão das importações de petróleo e gás natural da Rússia, com as sanções impostas a este país com a deflagração da guerra na Ucrânia. Resultado: as maiores tarifas da Europa e um sério ímpeto de desindustrialização da maior potência econômica continental.
A propósito, é relevante a contundente advertência do recente relatório do Tribunal Federal de Auditores alemão: “O Tribunal Federal de Auditores vê o perigo de que a transição energética em sua presente forma coloque em risco a Alemanha como um local para negócios e sobrecarregue a capacidade financeira das empresas e dos lares privados que consomem eletricidade… Em última análise, isso pode ameaçar a aceitação social do conjunto da transição energética (Die Welt, 31/08/2023)”.
Por aqui, o apagão que afetou quase todo o País no dia 15 de agosto proporcionou uma amostra das inconveniências de se agregarem fontes eólicas e solares na rede elétrica de base, que exige fontes não intermitentes. Não obstante o uso crescente de tais fontes ter sido apontado por numerosos especialistas como a causa primária do problema, o assunto tem sido tratado com luva de pelica pelas autoridades, para não “prejudicar os negócios”. Todavia, o emprego crescente dessas fontes intermitentes, contemplado no plano do governo, só tende a aumentar as probabilidades de problemas recorrentes no futuro próximo.
E, ao contrário da Coreia do Sul, que pretende reforçar a sua geração de base com novas usinas nucleares, nem o Plano de Transformação Ecológica nem o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), lançados com toda pompa pelo governo, incluem investimentos no setor.
A experiência de outros países mostra que a introdução de fontes intermitentes na geração de base tende a aumentar a insegurança das redes, os custos de geração e a ineficiência do sistema como um todo, com impactos negativos diretos sobre a economia em geral (o que vai na contramão dos prognósticos otimistas de Rafael Dubeux sobre o “adensamento tecnológico” dos setores produtivos). Perspectiva nada animadora para uma economia como a brasileira, praticamente estagnada desde 2015 e em franco processo de desindustrialização.
Ademais, a substituição das fontes tradicionais dos sistemas elétricos de base – termelétricas, hidrelétricas e nucleares – por outras de menor densidade energética, como eólicas e solares (e, na Europa, linhito e lenha), representa um retrocesso tecnológico. A rigor, uma transição energética efetiva deve envolver fontes de maior densidade e eficiência energética, como as tecnologias nucleares mais avançadas, inclusive reatores de fissão modulares e o desenvolvimento da fusão nuclear, que, além de instituições de pesquisa, tem despertado o interesse de start-ups dos EUA e da Europa, nas quais empresas petrolíferas como a Equinor, ENI, Chevron e outras vêm investindo (caminho que deveria ser seguido pela Petrobrás).
Por sua vez, o hidrogênio verde, sobre o qual há expectativas excessivamente otimistas, exige condições peculiares para obter um custo/benefício favorável, principalmente, a disponibilidade de fontes energéticas de baixo custo para o processo de eletrólise e a proximidade dos centros de consumo. Vale dizer, não é uma panaceia e precisa ser introduzido com o devido cuidado, para não agregar custos desnecessários no sistema energético.
Acima de tudo, o plano do governo padece de uma vulnerabilidade crucial, apostando as fichas em uma commodity cuja demanda tem sido criada artificialmente e que, diante das turbulências das mudanças globais em curso, pode experimentar oscilações imprevisíveis, como, aliás, é a experiência europeia com o seu mercado de carbono.
Em todo o mundo, a badalada agenda ESG (meio ambiente, social e governança), baseada na “descarbonização”, tem sido confrontada com o duro choque de realidade do seu custo/benefício desfavorável para as atividades produtivas em geral. Uma evidência das mais relevantes é a drástica redução da exposição dos megafundos de gestão de ativos BlackRock e Vanguard às decisões corporativas envolvendo tais temas, dos quais eram entusiasmados promotores até recentemente (Reuters, 29/08/2023).
Na mesma linha, inserem-se o discreto abandono da Shell, BP, Chevron e outras grandes empresas petrolíferas, de seus planos anteriores para a redução das respectivas “pegadas de carbono”. Idem para as decisões do governo da Noruega para ampliar a exploração de hidrocarbonetos no Ártico, ecossistema mais sensível que o bioma Amazônia, e do “ecológico” presidente estadunidense Joe Biden, de autorizar a exploração da Reserva Petrolífera do Alasca, estado que foi o palco de um dos maiores acidentes da indústria petrolífera de todos os tempos. E para o fato de a maioria dos países da Ásia e da África estar dando atenção apenas formal e perfunctória à agenda da “descarbonização”, continuando a investir nos hidrocarbonetos como insumos energéticos imprescindíveis aos seus planos de desenvolvimento (inclusive os parceiros do Brasil no novo “BRICS ampliado”).
Além disso, muitos aspectos da “descarbonização” começam a mostrar-se técnica, econômica e ambientalmente inviáveis, a exemplo da pretendida eletrificação da frota rodoviária, percepção que, estendida a outros setores, pode levar todo o processo a um impasse.
Por todos esses fatores, a implementação do Plano de Transformação Ecológica e do PL 412/2022, como tem sido promovida, a toque de caixa e com discussões limitadas com o conjunto da sociedade, passa longe dos interesses maiores do País. Em sua forma atual, atende apenas às conveniências políticas do governo, atado a compromissos baseados na “sustentabilidade” com os EUA e a UE, à militância profissional do radicalismo ambientalista e a interesses financeiros e econômicos voltados para ganhos de curto prazo, em desfavor de uma agenda estratégica de longo prazo para o País.
Em termos históricos, não seria a primeira vez que as elites dirigentes brasileiras optariam pela aposta no País como plataforma de exportação de commodities de demanda fora do seu controle. A opção pelos “serviços ambientais” não difere muito da preferência das elites da República Velha pela cultura do café, em detrimento da industrialização (cuja proporção atual em relação ao PIB, aliás, encontra-se nos níveis daquele período), ilusão demolida pela crise de 1929.
Em essência, em lugar de uma “transformação ecológica”, o Brasil pode estar entrando no caminho de uma virtual eutanásia econômica.
Geraldo Luís Lino, geólogo, ex-consultor ambiental e diretor do Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa).
Gostou do conteúdo?
Clique aqui para receber matérias e artigos da AEPET em primeira mão pelo Telegram.